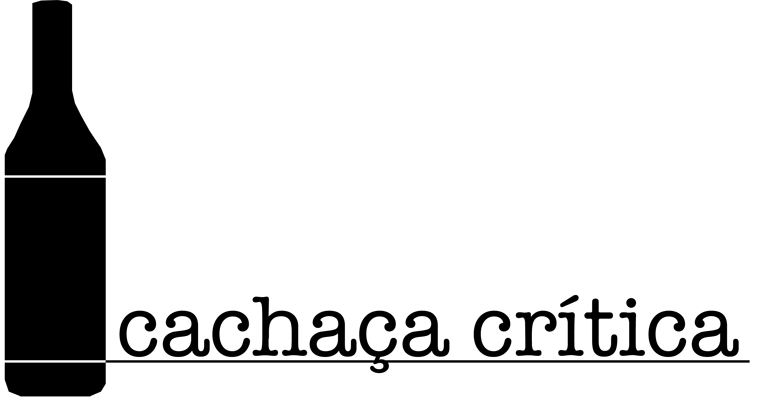*Rafael Rezende
** Este texto foi montado a partir do rascunho de um artigo que será lançado futuramente.
Toda ação política, podendo ser entendida como intervenção consciente
sobre certo cenário de disputa, está confinada entre as
possibilidades e os desejos dos atores disputantes. Esse fato é
ainda mais expressivo quando se trata de atores engajados em mudanças
mais ou menos radicais: seus desejos lhe dão longas asas que
permitem voos longínquos ao passo que seu pescoço está preso ao
solo por uma corrente chamada possibilidades. Como então lidar com
uma circunstância tão delicada? A dialética pode ser a resposta.
É muito comum que atores que ignoram ou desconhecem o caráter
dialético desta relação pervertam-se politicamente, seja através
do pragmatismo vazio das possibilidades, seja através do
isolacionismo paralisante dos desejos. Os primeiros docilmente
aceitam a corrente e abdicam de voar, enquanto os segundos se
imaginam livres mas acabam por voar em círculos sobre o mesmo lugar.
Ambos têm em comum o fato de não lograrem nenhum adejo
significativo rumo ao horizonte da transformação radical.
Um olhar um pouco mais atento sobre o passado nos evidencia que toda
ação política radical bem sucedida soube equilibrar-se entre
possibilidades e desejos, entre a utopia e o real. De forma alguma
isto significaria uma leitura estática da dialética entre desejos e
possibilidades onde o atrelamento de um ao outro geraria alguma forma
de circulo vicioso, muito pelo contrário, a dialética é
necessariamente uma movimentação contraditória que constitui um
novo repleto de continuidades e rupturas. A ação, a história
enquanto movimento criativo e destrutivo, é o fundamento desta
concepção de dialética, portanto, voar é preciso.
Se voar é preciso, como faze-lo com uma corrente tão curta nos
prendendo ao solo? Voando. Apenas o voo pode tensionar a corrente que
é ao mesmo tempo inquebrável e moldável. Assim como defendia um
bolchevique assassinado no México e muitas vezes acusado de
voluntarista, na relação entre consciência e desenvolvimento das
forças produtivas é preciso que a primeira dê um passo à frente.
Este passo só pode ser produto da imaginação e da criatividade. A
ausência delas é hoje a maior doença que assola os radicais
isolados nos desejos ou perdidos no possível imediato.